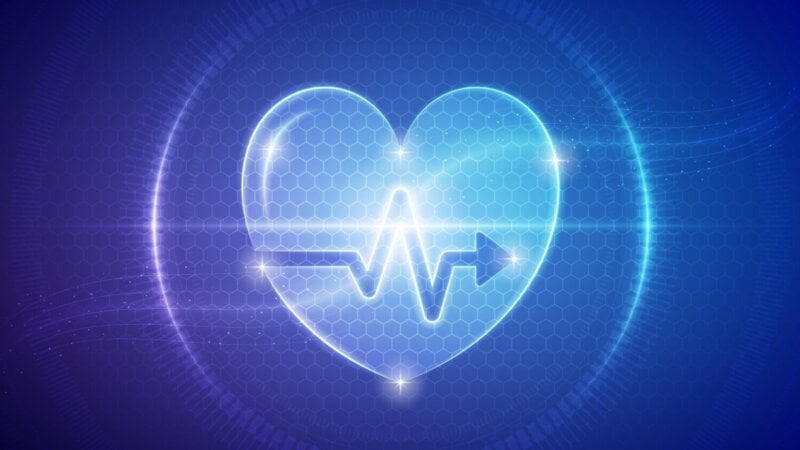Entenda a importância da neurodiversidade para as relações sociais

Não faz muito tempo, meu companheiro tatuou a palavra “neurodiversidade” em seu braço. Foi a forma que ele encontrou de ritualizar o diagnóstico de autismo de Pedro, nosso filho de 4 anos. E, apesar de se tratar de um assunto em evidência nos últimos tempos, há quem ainda pergunte a ele o que significa. O desconhecimento não me espanta. Por mais que me pareça uma palavra íntima, ela não é. Esse termo sequer existia há 30 anos. A primeira vez que apareceu em um registro oficial foi em 1998, em um capítulo escrito pela socióloga australiana Judy Singer para um livro publicado pela UK Open University Press.
O conceito de neurodiversidade de Judy Singer é uma analogia à biodiversidade: da mesma forma que a biodiversidade abrange todos os animais, plantas e microrganismos, a neurodiversidade representa a pluralidade neurológica de todos os seres humanos. “Costumo dizer que é a carta na manga da natureza, o fato de sermos todos diversos é um grande trunfo da vida, pois foi isso que nos possibilitou chegar até aqui”, afirma a Dra. Raquel Del Monde, neuropsiquiatra, mãe de um rapaz autista e referência no diagnóstico de pessoas adultas.
Não somos todos neurodiversos
Raquel explica que a neurodiversidade diz respeito aos nossos processos cognitivos, ou seja, como recebemos e processamos os estímulos externos e a forma como elaboramos nossas respostas e comportamentos em relação ao ambiente. Porém, apesar da diversidade ser intrínseca ao ser humano, existe um padrão estabelecido – e estar fora do que se espera desses processos caracteriza um funcionamento neurológico diferente: a neurodivergência. Por isso, há de se ter cuidado para não cair na falácia de que “somos todos neurodiversos”, que minimiza os prejuízos trazidos pelas diferenças que caracterizam as neurodivergências.
Somos todos diferentes
Infelizmente, as escolas são as campeãs dessa armadilha, em que professores e coordenadores afirmam que todos têm dificuldades. “Isso parece ser uma afirmação empática, mas, na prática, serve para minimizar as dificuldades das pessoas neurodivergentes. Nós não somos todos iguais, somos todos diferentes. E, além disso, algumas pessoas são mais diferentes do que as outras”, enfatiza Márcia Faria, empreendedora e neuropsicopedagoga, ativista neurodivergente e mãe atípica.
A tendência da sociedade é sempre de tornar todo mundo igual. “É mais fácil lidar com pessoas que estão dentro de um padrão porque possibilita estabelecer condutas também padrão, que serão replicadas para todos os ambientes”, destaca Raquel.
Abraçar a neurodiversidade é, portanto, quebrar a padronização das estruturas sociais. “É fundamental mostrar que existem neurodivergências, que tornam as pessoas diferentes de uma forma em que elas precisam de acomodações, tecnologias e recursos de que as outras pessoas não necessitam”, completa Márcia. E, no fim, todo mundo ganha com o que é diferente.
Convivência gera aprendizado
Pedro ainda era um bebê quando desconfiei que ele era diferente. Seu choro constante dava a sensação de que estava sempre chateado, incomodado com algo. Quando não chorava, estava sempre quieto. Eu nunca ouvi um balbucio. Ele tinha mais de 1 ano e não comia nada. Já estava com 2 e não falava uma palavra. Dormia muito pouco e suas mãozinhas faziam voos infinitos. Como jornalista, eu já havia escrito muito sobre desenvolvimento infantil e sabia os primeiros passos, mas, ao me debruçar nessa jornada, descobri o quanto não sabemos sobre as neurodivergências. E, pior: o pouco que julgamos saber é estereotipado, limitado e capacitista.
No caso do autismo, especificamente, descobri o quanto temos arraigado no imaginário coletivo o personagem Raymond Babbitt, um autista com síndrome de Savant, vivido pelo ator Dustin Hoffman, no filme Rain Man, de 1988. Isso acontece porque não convivemos com pessoas neurodivergentes. Meu filho, por exemplo, é o primeiro autista com quem tenho contato, e ele abriu um universo de conhecimento na minha vida. Talvez, um dos mais bonitos seja a capacidade de nomear sem sofrer: Pedro é autista. E isso não é bom nem ruim, simplesmente é quem ele é.

Consequências da falta de diagnóstico
Desde muito pequena, Márcia se percebia diferente das outras pessoas. Apesar de gostar disso, esforçava-se para não ser tão diferente assim. “Eu sempre procurei fazer atividades para estar com mais gente, mas sempre fui bastante solitária. Quase não tinha amigos e nunca soube como me relacionar com os poucos que tinha. Na verdade, ainda estou aprendendo a fazer isso”, explica. Ela conta que não teve uma adolescência típica, cheia de festas. Seus amigos eram os livros, os CDs e discos que escutava repetidamente.
“Tenho características de que as pessoas não costumam gostar, muito menos em meninas. Por exemplo: não sei e não gosto de demonstrar emoções ou afeto, não entendo nem dou importância para regras sociais, tenho dificuldade para me expressar e também na linguagem não verbal. Frequentemente era chamada de antipática, esquisita, grossa, teimosa e, até mesmo, mal-educada. Sou distraída, gosto excessivamente do que a maioria das pessoas não gosta. Falo coisas consideradas inapropriadas, não tenho muito filtro. Às vezes, não consigo falar ou o que sai é diferente do que estava na minha cabeça”, completa.
Todas essas características a afastaram do relacionamento com outras pessoas, afetaram sua vida e seu desempenho nas funções cotidianas. Não saber o motivo de ser assim a fez acreditar que havia algo errado com ela. Com isso, veio a baixa autoestima e o abandono de coisas de que gostava de fazer. “Tudo isso me levou a diagnósticos errados e, diversas vezes, a ciclos intermináveis de crises e burnouts”, afirma.
Alívio do diagnóstico
Márcia é mãe de Maria Antônia, diagnosticada autista com 1 ano e 9 meses – hoje, a pequena já tem quase 6 anos. Quem percebeu os sinais foi o pai. “No início até concordei com ele. Mas, depois, pensei que era um exagero e que, na verdade, a Toninha estava crescendo e ficando parecida comigo”, conta. Com o passar do tempo, Márcia fez amizade com alguns autistas adultos, que começaram a identificar nela características autísticas e a incentivaram a procurar por diagnóstico. “Eu fui para tirar essa dúvida, mas, na época, não acreditava que pudesse fazer alguma diferença”, relembra.
Mas fez. Muitas coisas ainda estão mudando. Márcia tem aprendido a reconhecer seus limites e isso diminuiu suas crises. Ela também tenta diminuir o masking (mascaramento da sua personalidade natural), tem se permitido fazer seus stims (movimentos autoestimulatórios) e suas “esquisitices”, porque agora sabe que não há nada de errado nisso. “Precisei revisar toda a minha vida. Mas passar a vida sem se sentir pertencente e agora saber o motivo e conhecer pessoas iguais a mim é libertador”, avalia.
Interferência da falta de capacitação profissional
Ainda hoje, o diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento não é simples. A Dra. Raquel Del Monde explica que existe uma falha grande na capacitação dos profissionais. “Não existe uma formação aprofundada para fazer o diagnóstico dessas condições neurodivergentes, de nenhuma delas. E não ter o apoio de algo mais objetivo, como marcadores biológicos, também dificulta, porque o diagnóstico é todo clínico. Portanto, dependente de uma boa capacitação”, enfatiza.

Fazendo as pazes consigo mesmo
Em seu livro Outros Jeitos de Usar a Boca, Rupi Kaur escreve: “todos nascemos tão bonitos, a grande tragédia é que nos convencem de que não somos”. Adultos que buscam por um diagnóstico passaram uma vida de inadequação e sofrimento, sem saber por que eram como eram. Como no poema de Rupi, nasceram bonitos, mas foram convencidos do contrário. Rotulados de esquisitos, preguiçosos, distraídos, mal-educados, frios, sem amor, os neurodivergentes não puderam ter suas dificuldades reconhecidas nem receber o suporte de que necessitavam.
É por isso que a taxa de suicídio de autistas homens, com nível 1 de suporte -, aquele em que as pessoas dizem “nem parece autista” (por favor, não faça isso!), – é 9% maior se comparado com a população neurotípica. Nas mulheres, esse número sobe para 13%.
“Quando a gente não tem um nome, fica procurando explicação para quem somos e, geralmente, a resposta aprendida é que a pessoa não se esforça o suficiente. Nunca passa por um funcionamento neurológico divergente. No entanto, com o diagnóstico, tudo começa a fazer sentido e encontra-se a explicação para ser quem se é”, destaca a Dra. Raquel. Ela se recorda de, certa vez, ao dar o diagnóstico para uma paciente adulta, perguntou se ela gostaria de formalizar sua condição. A resposta emociona a médica até hoje: “não, eu só queria fazer as pazes comigo mesma”.
Publicado pela Revista Vida Simples.
Por Luciana Fuoco
É jornalista e mãe da Sofia e do Pedro. Tem estudado sobre neurodivergência para apoiar seu garotinho diagnosticado com autismo.